Educação crítica para enfrentar desastres ambientais: podcast ‘Educar para o fim do mundo’ ressalta o poder da confluência de saberes e vivências
- Comunica Uerj

- 16 de set. de 2025
- 5 min de leitura
Estudantes de biologia e de geografia destacam ponte entre comunidade e universidade na luta pela mitigação dos efeitos das enchentes urbanas
Por: Carlos Roberto
Foto: Carlos Roberto

O ambiental não está separado do social. Esse é um conceito básico da educação social crítica, e o cerne da questão abordada pela apresentadora Rafaela Gavinho no podcast Educar para o fim do mundo, um projeto final da disciplina Metodologias em Educação Ambiental. Rafaela, estudante de biologia, se juntou com mais duas colegas de curso, Luana Lima e Rebeca Moura, além de Stephane Lima, de geografia. O objetivo é alertar acerca das mudanças do clima, através de relatos impressionantes com a vivência das enchentes. Não há como pensar nessas mudanças para mitigar os desastres climáticos sem antes refletir sobre os fatores responsáveis por eles, e sem despertar na população o conhecimento de modo que ela possa cobrar as políticas públicas. Através da divulgação de cartazes pelos corredores da universidade, deparei-me com o episódio piloto Quando o clima revela as feridas da cidade: o lado oculto das enchentes urbanas e ouvi muito mais do que uma entrevista: foi uma aula magna carregada de senso de humanidade, sensibilidade e um forte compromisso com a pesquisa e o conhecimento acadêmico, transmitido de forma tão concisa e objetiva, com relatos que nos aproximam à dura realidade.
O carioca enfrenta o problema das enchentes com uma certa de humor porque o riso é a fuga do colapso. Nas redes sociais, quando este assunto atinge os tópicos principais, o meme do motorista ilhado e revoltado cobrando o prefeito Eduardo Paes é carta marcada. Contudo, apesar das risadas garantidas, a preocupação e a angústia são elementos marcantes em nossas vivências. Rebeca conta que em 2023 entrou muita água em sua casa, no município de Belford Roxo, em um bairro cortado pelo Rio Botas e marcado pela alta probabilidade de transbordamento. Mais ou menos 1 metro de água que sujou as paredes e estragou eletrodomésticos, mas para ela, o maior dos impactos é o emocional, o medo de acontecer de novo, e o desamparo das populações vulneráveis face ao abandono do poder público. A falta de prontidão e de planejamento prévio resulta em um ciclo de transtornos emocionais e riscos à saúde. Quando eu morava com minha mãe, 8 anos atrás, a água inundou a sala e parte da cozinha. Ela entrou em profundo desespero enquanto minha irmã tentava acalmá-la e eu escoava com o rodo. Foi uma noite sem sono, pois o barulho da chuva, que é popularmente conhecida por transmitir a ideia de calma, se transformou em um pesadelo. Após a reforma feita por mim e nossos irmãos, ela não passa mais por esse transtorno. A população depende de si mesma, quer seja para oferecer mutirões de limpeza, seja para doações de cestas básicas e oferta de apoio emocional e psicológico. O senso de comunidade junto à dureza de saber que quem ajudou também pode passar pela mesma situação de quem foi amparado. Invisível aos olhos do poder público haja vista a política segregadora e gentrificadora enraizada no planejamento urbano, a população periférica sobrevive com as sequelas que deflagram um importante conceito abordado no episódio: a injustiça climática. Segundo Rebeca, as desigualdades sociais e econômicas ligadas a desastres climáticos atingem de forma desproporcional as populações mais vulneráveis como as de periferia, os ribeirinhos, os indígenas, que estão menos aptas a enfrentar esse evento extremo, enquanto os benefícios de um desenvolvimento industrial favorecem as populações mais ricas. E essa injustiça é atrelada ao racismo ambiental, termo que surgiu na década de 80 e popularizado dois anos depois pelo sociólogo e ativista Benjamin Chaves, refletindo a forma como as decisões políticas e econômicas são estruturadas por desigualdades raciais, sociais e territoriais. O silêncio e a inaptidão em detrimento da tomada de decisões sensatas revela quem paga o preço da degradação ao meio ambiente. Esse trecho da entrevista me fez lembrar da palestra do Carlos Minc, quando ele diz que ninguém escolhe morar na favela, isso é resultado de uma política de exclusão e de falta de programas sociais de habitação, de saneamento básico e de saúde pública.
A injustiça climática e o racismo ambiental nos levam a compreender outro termo: a ansiedade climática, termo utilizado para descrever o sofrimento psicológico e a frustração às mudanças climáticas e os impactos tanto no presente quanto para o futuro. No nosso dia a dia passamos por situações às quais nosso corpo envia sinais de alerta para fuga ou combate. O sistema nervoso simpático é responsável por essas respostas, o que faz aumentar os níveis de estresse em ocasiões de perigo. Quando somos informados de que uma frente fria se aproxima na cidade, o medo aumenta. O sentimento é compartilhado pelas meninas. Como vou chegar e voltar da Uerj? Como está minha casa durante essa chuva? Todas essas dúvidas pairam à cabeça e revelam uma angústia inesgotável.
Apesar dos inúmeros apontamentos negativos, existem pontos positivos: a criação de agendas elaboradas com lideranças locais e a ação da população, com pautas realistas que visem a mitigar os danos. Estas agendas locais dos municípios são importantes para a formulação da Agenda 2030 do Rio de Janeiro, que compreende os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. O estado parece não caminhar para cumprir estes objetivos, e as promessas se arrastam enquanto as calamidades são vivenciadas com cada vez mais frequência. Organizar e melhorar as perspectivas para nosso futuro deve partir do plano material e, nesse sentido, Luana ressalta a criação da política de cotas nas universidades. A democratização do acesso ao ensino público por pessoas pretas, pardas e indígenas trouxe as histórias vividas por essas populações, muitas delas vivendo em áreas vulneráveis.
Assumindo lugar de fala, elas compartilham seus saberes, se qualificam e levam de volta para suas respectivas comunidades, gerando uma ponte entre o espaço acadêmico e a população que somente é possível graças a essa política inclusiva e poderosa. Relembrando mais uma fala de Carlos Minc, a transformação acontece, de fato, com a confluência de saberes. A sabedoria popular rompe a distância da academia com a comunidade. O papel valioso da comunicação é o de estreitar laços, e não de alijá-los. Fiquei surpreso com esse apontamento da Luana. A informação abre caminhos para novas perspectivas, e um olhar sensível e crítico é fundamental para almejar esse exercício. Elas ofereceram um espaço para os ouvintes escreverem seus depoimentos ao enfrentarem inundações e alagamentos, destacando que as mudanças ambientais devem mexer com toda a estrutura coletiva social e cultural, e não apenas nos nossos hábitos. Portanto, a educação crítica é a fonte para alcançarmos estes objetivos. Aproximar todos os termos técnicos estudados à realidade da população é um ato libertário de transmitir o conhecimento e a autonomia para se entender a realidade.







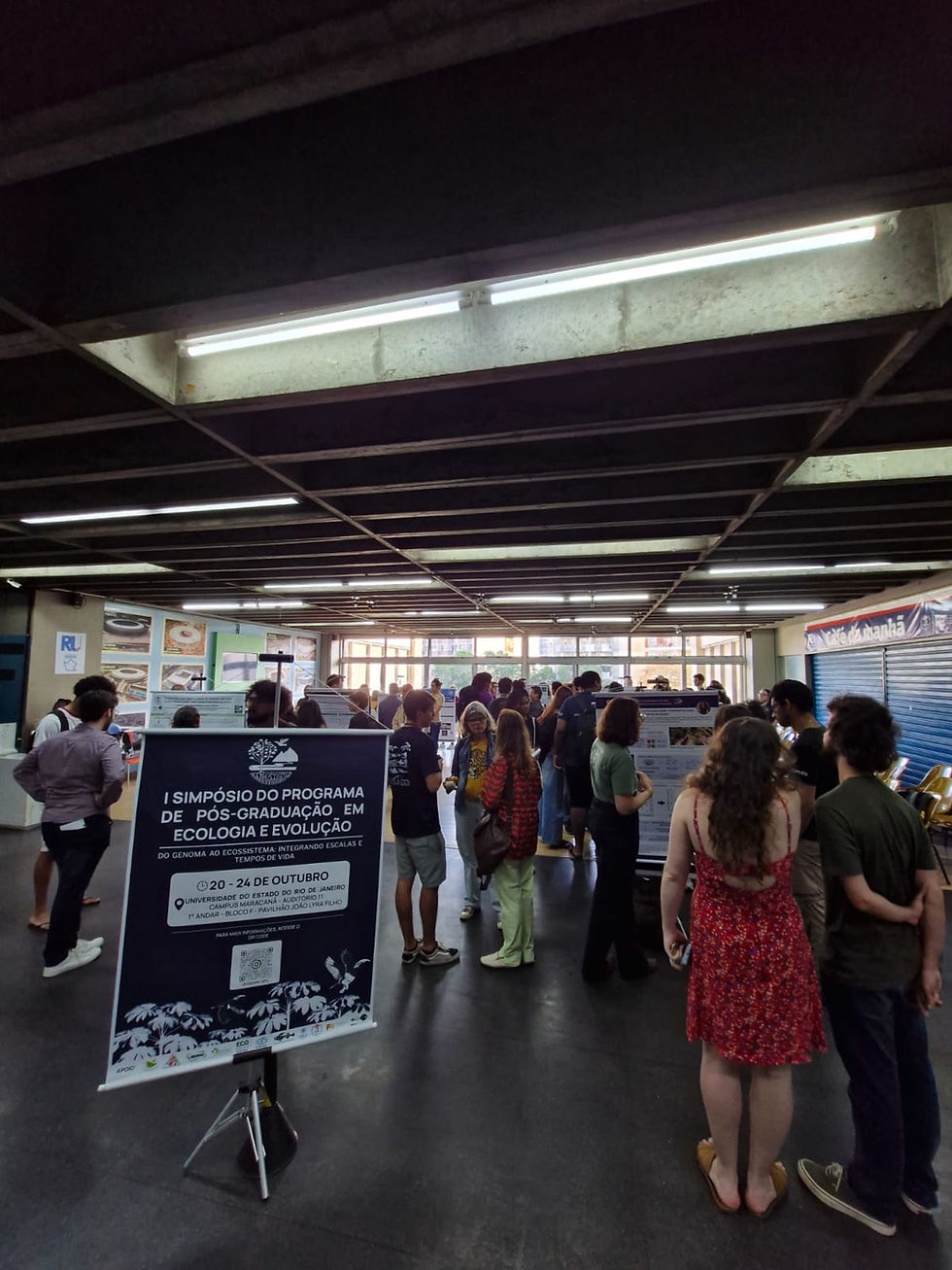
Comentários